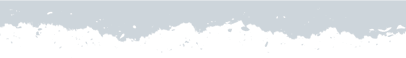A presença dos Templários prolongou-se em Portugal por perto de duzentos anos, desde 1128 até à extinção da Ordem, em 1312, e revestiu-se de uma importância que só agora começa a ser conhecida e devidamente valorizada. Na realidade, a Ordem do Templo continua a ser a menos estudada de todas as ordens militares que actuaram no território português [1]. Isto apesar de ter sido uma das primeiras a surgir no reino (juntamente com a Ordem do Hospital) e de ter sido detentora de um considerável património militar. Os Templários chegaram a possuir vinte castelos em Portugal, a maior parte dos quais chegaram às suas mãos ainda durante o Século XII, durante os reinados de D. Afonso Henriques (1128-1185) e de D. Sancho I (1185-1211). Se tivermos em conta que, nos finais do Século XII ou inícios do Século XIII a defesa do reino se apoiava em pouco mais de duas centenas de castelos podemos avaliar melhor a importância que a Ordem do Templo desempenhou, controlando quase 10% das fortificações cristãs. A importância deste património militar pode também ser avaliado quando se compara com o das outras ordens militares: a Ordem do Hospital (que deteve 8 castelos), a Ordem de Avis (10 castelos) e a Ordem de Santiago (13 castelos). Alguns dos castelos dos Templários – como é o caso de Soure e de Longroiva – já existiam antes de terem sido doados aos Templários e os freires limitaram-se a reformar a sua arquitectura, melhorando as condições de defesa. Outros – como os castelos de Pombal, Tomar e de Almourol – foram construídos de raiz e os Templários aplicaram aqui todos os seus conhecimentos de arquitectura militar, revelando como estavam a par das mais recentes experiências. A Ordem do Templo seria, de resto, responsável pela introdução de várias inovações na arquitectura militar portuguesa ao longo do Século XII. Finalmente, acrescentemos que os Templários fundaram ainda várias povoações – como Vila do Touro e Castelo Branco – contribuindo para o povoamento das zonas de fronteira, particularmente na zona Leste do reino. Neste breve apontamento começaremos por caracterizar o aparecimento da Ordem em Portugal e o seu itinerário ao longo do Século XII para, de seguida, procurarmos sintetizar os seus principais contributos do ponto de vista da arquitectura militar e da organização da defesa do reino.
A Ordem do Templo foi fundada em Jerusalém, em 1118 ou 1119, por um grupo de cavaleiros de origem francesa, entre os quais se contavam Hugues de Payens e Godefroy de Saint Omer [2]. Uma década mais tarde recebeu a sua Regra, um texto austero redigido por S. Bernardo e aprovado no Concílio de Troyes, em Janeiro de 1128 [3]. A adopção da Regra correspondeu a uma fase de expansão da Ordem pelo Ocidente europeu, quando Hugues de Payens empreendeu uma viagem por diversos reinos procurando novos apoios para a sua causa [4]. É sensivelmente por esta altura que se documenta pela primeira vez a presença dos Templários em Portugal. Na realidade, a primeira notícia que se conhece remonta a 19 de Março de 1128, quando a condessa D. Teresa lhes entregou o castelo de Soure, uma fortificação que se erguia escassos quilómetros a Sul da cidade de Coimbra, na fronteira entre o espaço cristão e o território muçulmano [5]. Conhece-se igualmente o rascunho de uma ampla doação de bens para os Templários, redigido cerca de 1128, que alguns historiadores entenderam que nunca se chegou a concretizar [6]. No entanto, as Inquirições de 1220 e de 1258 revelam que uma parte dos bens mencionados nessa minuta ou rascunho estavam na posse dos Templários na primeira metade do Século XIII, o que parece sugerir que a doação se terá mesmo concretizado. De qualquer forma, podemos afirmar com segurança que os Templários se encontram documentados em Portugal desde a Primavera de 1128. A Ordem do Templo surgiu, portanto, nos derradeiros momentos do Condado Portucalense, quando o espaço do Norte de Portugal ainda estava confiado ao governo de D. Teresa. Esta senhora, filha do rei Afonso VI de Leão e Castela, casara em 1096 com o Conde D. Henrique, filho do Duque da Borgonha, de quem enviuvara em 1112. Nesse ano de 1128 o Condado atravessava momentos difíceis. A nobreza portucalense, discordando da crescente influência do nobre galego Fernão Peres de Trava, abandonou a corte condal e tomou o partido de D. Afonso Henriques [7]. A 24 de Junho de 1128, escassos três meses depois das primeiras referências documentais aos Templários, D. Afonso Henriques revoltou-se contra sua mãe e defrontou as forças que lhe eram leais na Batalha de S. Mamede. O resultado dessa batalha, travada junto a Guimarães, foi favorável ao infante D. Afonso Henriques, que foi escolhido para governar o território portucalense. A condessa viu- se obrigada a exilar-se na Galiza, onde morreu em 1130. A Batalha de S. Mamede ficou a assinalar o início do governo de D. Afonso Henriques e foi o acontecimento escolhido pelas fontes medievais para marcar a independência de Portugal [8]. Pouco depois, a 14 de Março de 1129 ou 1130 o jovem monarca assinaria um novo diploma confirmando a posse do castelo de Soure e do seu território pelos Templários [9].

A doação de Soure aos Templários revela uma preocupação com a defesa de Coimbra, cidade que tinha sido reconquistada definitivamente pelas forças cristãs em 1064 mas que continuava regularmente a ser objecto de incursões militares almorávidas (como aconteceu em 1111 e em 1116). Na realidade, o território de Soure assumia uma enorme importância porque permitia controlar a via romana que, saindo de Olisipo (Lisboa), se dirigia até Aeminum (Coimbra) e daí até Bracara Augusta (Braga). Esta via, uma das mais trilhadas estradas medievais, era regularmente utilizada para as incursões militares organizadas quer por muçulmanos, quer por cristãos. Pouco tempo depois de ter assumido os destinos do reino, D. Afonso Henriques transferiu a corte régia de Braga (no Entre-Douro-e-Minho) para Coimbra, onde passou a residir com regularidade a partir de 1131 [10]. Coimbra converteu-se, assim, na capital do reino. Esta deslocação da corte para junto da fronteira meridional do reino contribuiu para uma nova dinâmica no processo da Reconquista e veio conferir uma nova importância à defesa da cidade de Coimbra. O papel dos Templários, controlando um amplo território a sul da cidade, centrado em torno do eixo viário romano, ganhou ainda maior relevo.
Dentro deste território os Templários reconstruíram o Castelo de Soure, onde instalaram a primeira sede da Ordem em Portugal [11]. O Castelo de Soure tinha sido erguido na segunda metade do Século XI por D. Sesnando Davides, um moçárabe que se distinguira como conselheiro de Fernando o Magno no cerco e reconquista de Coimbra (em 1064). O monarca leonês, reconhecido, nomeara-o Alvazil do territorium de Coimbra e foi nessa condição de governador que este procedeu à construção da primeira fortificação de Soure. Este castelo, que durante várias décadas esteve na fronteira dos territórios cristãos, teve de enfrentar diversas ofensivas muçulmanas. A última ocorrera em 1116, quando forças almorávidas comandadas por Ali ibn Yusuf investiram sobre o vale do Mondego, destruindo Miranda do Corvo e o castelo de Sta. Eulália (junto a Montemor-o-Velho) [12]. A população de Soure, tomando conhecimento da aproximação dos exércitos muçulmanos, incendiou o seu castelo e refugiou-se em Coimbra. Evitou, assim, que a fortificação caísse nas mãos das forças muçulmanas e fosse utilizada para apoio de outras operações militares. Desta forma, quando a Ordem do Templo recebeu o território e o castelo de Soure, em 1128, a zona estava ainda duramente afectada pela destruição de 1116: a igreja paroquial de Soure começara a ser reconstruída apenas em 1123 [13], o povoamento da zona era escasso e deficiente, e o castelo devia necessitar de obras de reconstrução. Para mais, como referimos, Soure foi a primeira doação que a Ordem recebeu e tornou-se a sede dos Templários em Portugal, estatuto que conservou durante três décadas, desde 1128 até 1160-69. É natural, por isso, que os Templários tenham realizado obras no castelo de Soure. Foi por esta altura que foram construídas duas torres na zona Sul do castelo, que passaram a enquadrar a estrutura de D. Sesnando permitindo tiro flanqueado.
Dentro do território de Soure os Templários construíram duas novas estruturas militares: um pequeno castelo em Ega e um outro, mais importante, em Pombal. Do castelo de Ega conhecemos a sua implantação, mas quase não sobrevivem vestígios arqueológicos. Resta apenas parte da sua muralha, encoberta pela vegetação e por terras de deposição recente. O castelo foi destruído quando, no Século XVI, ali se ergueu um Paço senhorial. Mas em relação ao castelo de Pombal temos vestígios monumentais muito importantes. O Castelo de Pombal, que se começou a construir em 1156, já durante o governo de D. Gualdim Pais, apresenta um perímetro poligonal irregular onde cada esquina é marcada por um torreão de planta quadrangular. Ao todo, nove torreões que, evitando ângulos mortos, permitem tiro flanqueado eficaz. A porta de entrada, enquadrada por dois torreões, beneficia igualmente de condições de defesa assinaláveis. Este castelo, que se começou a erguer em 1156 [14] e que devia estar concluído (ou quase concluído) em 1160, revela uma arquitectura militar muito mais apurada e desenvolvida que a dos restantes castelos erguidos pelas forças cristãs portuguesas. Mais tarde, em 1171, as defesas de Pombal foram reforçadas com a construção de uma notável Torre de Menagem, dotada de alambor [15]. A data da sua construção e o papel de D. Gualdim Pais, mestre dos Templários portugueses, ficaria memorizada por meio de uma extensa inscrição de 1171 [16].
Até aos meados do Século XII não conhecemos muitos mais dados sobre a actuação dos Templários em Portugal. Para voltarmos a encontrar referências documentais é necessário avançar até 1144, quando os freires defenderam Soure de uma investida muçulmana que teve um desfecho pouco favorável para os cristãos, saldando-se num elevado número de prisioneiros [17]. Mas esse desaire não impediu que os Templários recebessem, em 1145, uma segunda importante doação que envolvia três castelos. O autor dessa doação foi um particular, D. Fernão Mendes de Bragança, elemento de uma das mais poderosas famílias da Nobreza portuguesa [18]. Fernão Mendes era casado com a irmã de D. Afonso Henriques, D. Sancha Henriques, sendo assim cunhado do monarca e nobre da sua confiança. Em 10 de Junho de 1145 doou o castelo de Longroiva, na fronteira Leste do reino, não muito longe do rio Côa, aos Templários, na pessoa do Procurador D. Hugo de Martónio [19]. Sensivelmente pela mesma altura o mesmo nobre entregou mais duas fortificações aos Templários – os castelos de Mogadouro e de Penas Róias, em Trás-os-Montes, também ligados à defesa da fronteira leste de Portugal, confinante com o reino de Leão e Castela [20]. O Castelo de Longroiva permaneceu na posse dos Templários até à extinção da Ordem, em 1312, mas os castelos de Mogadouro e de Penas Róias foram trocados em 1197 e 1199 por outros bens, regressando à posse da coroa portuguesa [21].
Desta forma, podemos dizer que cerca de 1145 os Templários detinham em Portugal dois grupos de castelos em duas zonas distintas. Uns localizados a Sul de Coimbra, dentro do território de Soure, encarregados de defender a cidade das incursões muçulmanas, particularmente as que partiam de Santarém e se serviam da via romana para chegar aos campos do Mondego. E um segundo grupo de castelos – Mogadouro, Penas Róias e Longroiva – localizados ao longo da fronteira leste do reino, frente a Leão e Castela.
Em 1147 os Templários estiveram ao lado de D. Afonso Henriques em dois acontecimentos militares de grande importância para a história portuguesa: primeiro na conquista de Santarém (ocorrida a 15 de Março de 1147) e depois no cerco de Lisboa (iniciado em Junho de 1147) que culminaria na conquista da cidade (a 25 de Outubro de 1147) [22]. É importante sublinhar que estas são as primeiras acções militares onde, comprovadamente, os Templários integram o exército régio português. A participação dos Templários na conquista de Santarém levou o monarca a entregar-lhes os direitos eclesiásticos sobre os templos de Santarém [23]. Esta doação haveria de estar na origem de um prolongado litígio. Na realidade, depois da conquista de Lisboa, em 25 de Outubro de 1147, a diocese de Lisboa foi restaurada e o seu Bispo, Gilberto de Hastings, reclamou a posse dos direitos das igrejas de Santarém, que pertenciam à diocese de Lisboa. A contenda entre os Templários e a diocese de Lisboa arrastou-se ao longo de doze anos, sendo apenas resolvida em 1159.
Os meados do Século XII foram particularmente importantes para os Templários portugueses. Cerca de 1151-52 um nobre português, D. Gualdim Pais, partiu para o Próximo Oriente onde permaneceu durante cinco anos, combatendo no âmbito da IIª Cruzada, pregada por S. Bernardo em 1146. Sabemos que Gualdim Pais participou no Cerco de Antioquia e na tomada de Escalona (em 1153) [24]. Desta forma, Gualdim Pais percorreu o Próximo Oriente de Norte a Sul e conheceu alguns dos mais importantes castelos que os Cruzados – nomeadamente os Templários e os Hospitalários – aí ergueram, onde se aplicavam as mais arrojadas soluções da arquitectura militar da época. Depois, cerca de 1156, Gualdim Pais regressou a Portugal onde foi escolhido para Mestre dos Templários portugueses, cargo em que já se encontra documentado em 1156-57 [25]. Sucedeu, assim, a Hugo de Martónio, documentado como Procurador dos Templários em Portugal desde 1143 até 1155. O papel de Gualdim Pais revelou-se de grande importância, inaugurando uma fase de grande desenvolvimento da Ordem em Portugal. Logo nesse ano de 1156 começou a construir o Castelo de Pombal, na zona sul do Território de Soure, em terrenos que lhes tinham sido doados em 1128. Pouco depois, em 1159, Gualdim Pais chegou a acordo com o Bispo de Lisboa, cedendo-lhe os direitos das igrejas de Santarém e resolvendo a contenda que se arrastava desde 1147. D. Afonso Henriques, em reconhecimento, entregou-lhe um grande território – o do Castelo de Ceras [26]. Este novo território, mais amplo que o de Soure, localizava-se igualmente a Sul da cidade de Coimbra e permitia o controle de uma nova via de comunicação. Mas enquanto que Soure controlava a via romana, o território de Ceras localizava-se sobre o itinerário da estrada medieval da Ladeia, via regularmente trilhada pelos exércitos cristãos e muçulmanos em acções militares. No centro deste território erguia-se uma pequena fortificação que lhe dava o nome – o castelo de Ceras – que Gualdim Pais parece ter tido intenção de reconstruir. Mas rapidamente abandonou esse projecto, preferindo erguer um novo castelo duas léguas a Sul, em local mais adequado. Assim surgia um dos mais extraordinários castelos portugueses do Século XII – o castelo de Tomar, fundado a 1 de Março de 1160 [27].
Concebido desde início para ser a nova sede da Ordem do Templo em Portugal, Tomar revestiu-se de características de vanguarda e foi responsável pela introdução de uma série de novidades na arquitectura militar portuguesa. Destaquemos duas particularmente importantes. Em primeiro lugar, a Torre de Menagem. O Castelo de Tomar possui a mais antiga torre de menagem que conhecemos em Portugal com datação segura, erguida em 1160 e comemorada com inscrição [28]. De resto, as mais antigas torres de menagem portuguesas com datação estão todas associadas aos Templários: depois de Tomar (1160), temos Pombal (1171), Almourol (1171), Penas Róias (1172) e Longroiva (1174) [29]. A segunda grande novidade que encontramos em Tomar é a presença do alambor – uma estrutura rampeada na base dos muros do castelo que impedia a aproximação dos engenhos de guerra e das torres de assalto, e que dificultava o escalamento do muros e os trabalhos de mina [30]. Esta estrutura é relativamente comum nos castelos do Próximo Oriente. Sem a preocupação de sermos exaustivos, registemos a sua presença no Crac dos Cavaleiros (Qal’at Salah-ed-Din), no Castelo de Beaufort (Qal’at al-Shaqif), no Castelo de Belvoir e no Castelo de Kerak de Moab (al Karak), todos no Reino de Jerusalém, e nos castelos de Saone (Sahyun) e de Margat (Qal’at al-Marqab), no Principado de Antioquia [31].
O alambor de Tomar é uma estrutura notável, que se estende por toda a muralha exterior da Alcáçova e do Castelo, atingindo uma dimensão que não encontramos em mais nenhuma estrutura militar portuguesa. É, também, o mais antigo exemplo de alambor que se conhece em Portugal, já que as obras deste castelo decorreram entre 1160 e 1169. Conhecemos mais cinco casos de uso do alambor em Portugal ao longo do Século XII mas todos posteriores a Tomar: Pombal (1171), Almourol (1171), Soure (c. 1175), Lousã e Juromenha (estes dois últimos da 2a metade do Século XII). Portanto, quatro dos seis exemplos de alambor em castelos portugueses do Século XII pertencem aos Templários. O castelo de Tomar revela, ainda, uma notável capacidade de adaptação às condições topográficas do terreno. O seu espaço encontra-se repartido em três zonas com funções distintas. Na zona mais elevada encontramos a Alcáçova dos Templários, que se estende entre a Charola e o Castelo. No espaço intermédio temos um Pátio, de que se conhece uma representação numa iluminura do Século XVI e que foi sempre um espaço livre, destinado a abrigar populações em caso de perigo. E por fim, na zona mais baixa, encontramos a Almedina de Tomar, onde se instalou a primeira povoação civil de Tomar. Para atrair população civil, D. Gualdim Pais assinou duas cartas de Foral: uma em 1162 e outra em 1174 [32]. Os diplomas surtiram efeito já que se documentam casas e população civil em Tomar logo em 1172 [33], escassos três anos depois de concluída a construção do castelo. Dotado de vinte e cinco torreões, o Castelo de Tomar consegue, graças a um sábio aproveitamento da morfologia do terreno, eliminar a quase totalidade dos ângulos mortos, assegurando tiro flanqueado em quase toda a sua extensão. Os pontos extremos do seu perímetro amuralhado encontram-se reforçados por torres particularmente possantes – a Torre da Rainha e a Torre da Condessa. À boa maneira românica, o Castelo de Tomar evita multiplicar o número de portas de entrada, apresentando apenas duas: a Porta do Sol, que garantia o acesso ao Pátio e à zona da Alcáçova militar, e que era defendida por tiro vertical praticado a partir do Castelo dos Templários; e a Porta do Sangue, que assegurava comunicação à Almedina, uma porta dotada de dois torreões de planta quadrada [34].

Como demonstramos no estudo que consagramos em 1996 à arquitectura militar dos Templários, o Castelo de Tomar começou a ser erguido a 1 de Março de 1160 e em 1169 devia estar concluído. Pouco depois, cerca de 1175, os Templários começaram a construir a Charola de Tomar, um dos raros exemplos de uma igreja românica portuguesa de planta centrada [35]. A construção da Charola românica de Tomar, seguindo uma planta inspirada na arquitectura do Santo Sepulcro, prolongou-se desde 1175 até 1190, tendo sido interrompida com o grande cerco levantado ao castelo de Tomar por Abu Yaqub Yuçuf, em 1190 [36]. Na realidade, apesar das forças almóadas não terem conseguido conquistar Tomar, a economia dos Templários deve ter sido duramente afectada pela destruição muçulmana e as obras da Charola foram interrompidas para só serem retomadas e concluídas já no Século XIII.
Depois de terminada a construção do Castelo de Tomar, os Templários empreenderam um programa de reforma dos restantes castelos da Ordem. Conhecem-se obras em pelo menos oito fortificações. Em Pombal é construída a Torre de Menagem, com alambor, comemorada por inscrição de 1171. Nesse mesmo ano é construído de raiz o Castelo de Almourol, numa ilha rochosa do Tejo, obra comemorada com duas inscrições, ambas de 1171. Por meio destas inscrições sabemos que entre os anos de 1169 e 1171 os Templários tinham realizado obras nos castelos de Cardiga, Zêzere, Idanha-a-Velha e Monsanto, tudo castelos que tinham chegado à posse da Ordem num passado recente. Efectivamente Idanha-a-Velha e Monsanto, dois castelos na margem zona Leste do reino, a Norte do Tejo, tinham sido doados por D. Afonso Henriques em 30 de Novembro de 1165 [37]. E os castelos da Cardiga e de Zêzere tinham sido entregues em Outubro de 1169, quando o monarca confirmou a posse de Tomar pelos Templários e ampliou o território de Ceras, prolongando-o até ao vale do Tejo [38]. O Castelo de Monsanto, que se ergue não muito longe de Idanha-a-Velha, no alto de um imponente monte rochoso, teve uma Torre de Menagem, da qual só sobrevivem os entalhes abertos nos afloramentos rochosos. Por estes conseguimos saber que era uma construção de planta quadrangular, com 6,70 m de lado. A sua edificação pode ser balizada entre os anos de 1169 e 1171, pertencendo, assim, ao conjunto dos mais antigos exemplos deste tipo de construção em Portugal. Pouco tempo depois, em 1172, foi construída a Torre de Menagem do castelo de Penas Róias, e em 1174 a Torre de Menagem do Castelo de Longroiva, ambas também datadas por meio de inscrições. Devemos ainda acrescentar que a Torre de Menagem do Castelo de Longroiva constitui o mais antigo exemplo do uso de uma hurdício em Portugal, revelando, uma vez mais, como os Templários estavam na vanguarda dos conhecimentos de arquitectura militar.

O ano de 1171 foi ainda o ano da construção do Castelo de Almourol. Este castelo, erguido numa pequena ilha rochosa no leito do rio Tejo, é talvez o mais conhecido dos castelos portugueses dos Templários [39]. O local foi escolhido porque permitia controlar um vau onde se transpunha o Tejo. Na realidade, quem pretendia atravessar o Tejo podia socorrer-se de barcas de passagem na zona de Lisboa e de Santarém, ou recorrer ao vau na zona de Almourol. A multiplicação de castelos erguidos pelos Templários na margem Norte do Tejo nesta zona – onde, de montante para jusante, se alinhavam os castelos de Zêzere, Almourol e Cardiga – revela a importância estratégica deste ponto de passagem que estava igualmente associado à estrada medieval que passava por Tomar e seguia pela Ladeia até à zona de Coimbra. O castelo de Almourol, para além da sua notável implantação, é um castelo de grande requinte construtivo, com dois recintos independentes, isolados por uma muralha interna: um pequeno recinto, destinado à habitação da guarnição militar, e um pátio superior dominado pela Torre de Menagem. As suas muralhas, dotadas de torreões semi-circulares muito desenvolvidos, que favorecem muito o tiro flanqueado, e com duplo parapeito nas suas extremidades (recordando a solução das couraças), revelam toda a mestria dos Templários na construção militar e um extraordinário aproveitamento do local. Na realidade, o castelo utiliza toda a área disponível da pequena ilha – toda a superfície que permanece acima da linha de água no Inverno, quando o caudal do Tejo é mais forte.
Chegados a 1175, quase vinte anos depois de Gualdim Pais ter regressado a Portugal e ter sido nomeado Mestre dos Templários, a Ordem atravessava o seu momento áureo. Detinha amplos e consolidados domínios, todos localizados ao longo das fronteiras, controlava treze castelos e desempenhava um papel fundamental na defesa do reino. O monarca distinguira a fidelidade dos freires com generosas doações e os Templários, enquanto freires-militares, não enfrentavam qualquer “concorrência”. Na realidade, a única outra Ordem militar que existia em Portugal era a Ordem dos Hospitalários, que entrara no reino cerca de 1128 mas que mantinha, desde então e até 1189, uma actividade exclusivamente no domínio da assistência, sem abraçar uma dimensão militar. Até 1172 os Templários eram os únicos freires-militares presentes no reino. Mas nessa mesma década começaram a surgir novas ordens militares. Em primeiro lugar apareceu a Ordem de Santiago, uma ordem de origem peninsular que se encontra documentada em Portugal desde 1172. Pouco depois, em 1175, o próprio monarca fundava a Milícia de Évora, encarregada da defesa desta cidade do Alentejo. Esta Milícia viria a receber em 1211 a vila de Avis, onde construiu um castelo em 1214 e para onde transferiu a sua sede, passando a ser conhecida como Ordem de Avis. Depois, no final do século, a Ordem do Hospital, que como vimos entrara em Portugal sensivelmente ao mesmo tempo que os Templários, passou a ter também actividade militar. Os seus freires participam em 1189 no cerco e conquista de Silves, ao lado de D. Sancho I e dos cavaleiros do Templo, de Santiago e de Évora. E recebem em 1194 uma ampla herdade na margem norte do Tejo, doada por D. Sancho I, com a condição de aí erguerem um castelo a que o rei pôs o nome de Belver [40]. Estas novas ordens militares acabaram por constituir uma forte concorrência para os Templários, e essa concorrência começou a sentir-se precisamente quando Gualdim Pais entrava na velhice, vendo as suas capacidades físicas diminuídas. Nascido cerca de 1120, o Mestre viria a falecer a 13 de Outubro de 1195, com cerca de 75 anos, tendo sido enterrado na Igreja de Sta. Maria dos Olivais, em Tomar, onde se localizava o Panteão dos freires e onde se conserva o seu epitáfio [41]. Com ele encerrava-se a fase de maior pujança dos Templários portugueses. Se a defesa de Coimbra e do vale do Tejo esteve, em boa parte, confiada aos cavaleiros do Templo, a reconquista do Alentejo e do Algarve, na primeira metade do Século XIII, seria obra dos freires das novas ordens, particularmente da Ordem de Avis e da Ordem de Santiago.
A distribuição geográfica dos castelos dos Templários em Portugal revela três grandes concentrações, visando três objectivos estratégicos:
- em primeiro lugar, o controle dos acessos meridionais a Coimbra, cidade que se convertera desde 1131 na capital do novo reino;
- em segundo lugar, o controle do vale do Tejo, que se assumiu como linha estável de fronteira na segunda metade do Século XII e cujo papel se viu reforçado depois das incursões almoadas de Abu Yaqub Yuçuf, al-Mansur, em 1190 e 1191;
- e em terceiro lugar, o controle da fronteira Leste, de Trás-os-Montes e da Beira, que confinava com o reino de Leão e Castela, e onde se alinham vários castelos, sobretudo a Norte do Tejo.
A entrega deste amplo património militar, que nos fins do Século XIII era composto por treze castelos, e que chegariam a um total de vinte fortificações, revela a confiança que a coroa portuguesa depositou, desde a primeira hora, nos cavaleiros do Templo. Mas reflecte, igualmente, o facto desta Ordem ter sido, em Portugal e ao longo do Século XII, a organização que detinha os melhores conhecimentos de táctica militar e da arte de construir fortificações. É significativo que os Templários tenham sido responsáveis pelos mais sofisticados castelos construídos em Portugal ao longo do Século XII, e que tenham sido os responsáveis pela introdução das mais importantes inovações em termos de arquitectura militar – a Torre de Menagem (a cuja difusão em Portugal estão ligados), o alambor e a hurdício, tudo soluções com que devem ter tomado contacto durante as deslocações ao Próximo Oriente, no quadro das Cruzadas. Neste sentido, a participação de Gualdim Pais no âmbito da IIa Cruzada teve repercussões muito importantes na evolução da arquitectura militar portuguesa do Século XII.
Mário Jorge Barroca
| Mário Jorge Barroca doutorou-se em Pré-História e Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1996, com a dissertação: Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422) (Porto, 1995), que obteve classificação máxima. Tornou-se Professor Agregado em 2007 e Professor Catedrático em 2014. É Sub-Diretor da FLUP desde 2019.
É Investigador do CITCEM (FCT), Membro da Comissão Coordenadora do CITCEM (2018-) e Coordenador do Grupo «Territórios e Paisagens» (2018-). |
O presente texto foi, nas suas linhas gerais, apresentado no International Archaeological Symposium – Defense Systems Through History, organizado pelo International Centre of Croatian Universities in Istria, que decorreu em Pula (Croácia) em Novembro de 1999.
Fonte
Notas
[1] Os estudos consagrados às Ordens Militares em Portugal conheceram recentemente uma grande renovação com a defesa de várias teses de mestrado e de doutoramento na Universidade do Porto que permitem avaliar a importância económica e política destas instituições. Sobre a Ordem de Avis veja-se Maria Cristina Almeida e Cunha, A Ordem Militar de Avis (Das origens a 1329), Porto, 1989; e Maria Cristina Gomes Pimenta, “A Ordem Militar de Avis (durante o mestrado de D. Fernão Rodrigues de Sequeira)”, Militarium Ordinum Analecta, vol. I, Porto, 1997, pp. 127-242. Sobre a Ordem de Santiago veja-se Mário Raul de Sousa Cunha, A Ordem Militar de Santiago (Das origens a 1327), Porto, 1991. Sobre a Ordem do Hospital veja-se Paula Maria de Carvalho Pinto Costa, A Ordem Militar do Hospital em Portugal (Século XII-XIV), Porto, 1993; e, da mesma autora, A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade, Porto, 1999. Sobre a Ordem de Cristo veja-se Isabel Morgado de Sousa e Silva, “A Ordem de Cristo durante o Mestrado de D. Lopo Dias de Sousa (1373?-1417)”, Militarium Ordinum Analecta, vol. I, Porto, 1997, pp. 5-126. No entanto, a Ordem do Templo ainda não foi estudada em nenhuma tese de mestrado, permanecendo assim a mais desconhecida das Ordens Militares da Idade Média portuguesa.
[2] Malcolm Barber, The New Knighthood. A History of the Order of the Temple, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 6-7; Alain Demurger, Vie et Mort de l’Ordre du Temple, Paris, Ed. du Seuil, 1989, pp. 15-27.
[3] Alain Demurger, Vie et Mort de L’Ordre du Temple, Paris, Ed. du Seuil, 1989, pp. 40 e ss..
[4] Alain Demurger, Vie et Mort de l’Ordre du Temple, Paris, Ed. du Seuil, 1989, pp. 55-62.
[5] Cf. Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios (1096-1185), Lisboa 1958-1962 (daqui em diante citado pela sigla DMP, DR), doc. nº 79. Uma síntese actualizada sobre a história dos Templários em Portugal ao longo do Século XII encontra-se em Mário Jorge Barroca, “A Ordem do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Século XII”, Portvgalia, Nova Série, vol. XVII-XVIII, Porto, 1996-97, pp. 172-182.
[6] Cf. DMP, DR, doc. nº 77.
[7] Vd. José Mattoso, “A primeira tarde portuguesa”, Portugal Medieval. Novas interpretações, Lisboa, INCM, 1985, pp. 11-35; José Mattoso, História de Portugal, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, pp. 56-60.
[8] Todos os registos analísticos medievais utilizam o ano de 1128 e a Batalha de S. Mamede para iniciar a contagem do reinado de D. Afonso Henriques revelando como, já durante a Idade Média, se entendia que a independência de Portugal arrancara com essa Batalha.
[9] DMP, DR, doc. nº 96.
[10] José Mattoso, História de Portugal, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, pp. 64-69.
[11] Sobre a fase mais antiga do Castelo de Soure veja-se Mário Jorge Barroca, “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico (Século IX a XII)”, Portvgalia, Nova Série, vol. XI – XII, Porto, 1990-91, pp. 103-105; e Mário Jorge Barroca, “Contribuição para o estudo dos Testemunhos Pré-Românicos de Entre-Douro-e-Minho. I. Ajimezes, Gelosias e Modilhões de Rolos”, Actas do Congresso Internacional Comemorativo do IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga, vol. I, Braga, 1990, pp. 122-123. Sobre a reforma do castelo ordenada pelos Templários veja-se Mário Jorge Barroca, “A Ordem do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Século XII”, Portvgalia, vol. XVII-XVIII, Porto, 1996-97, pp. 182-186. Para um enquadramento histórico consulte-se a síntese de Leontina Ventura, “Soure na História: algumas reflexões”, Locus, vol. 1, Coimbra, 1986, pp. 39-49.
[12] Sobre a incursão almorávida de 1116 vd. Luís Gonzaga de Azevedo, História de Portugal, vol. III, Lisboa, 1940, pp. 131-134.
[13] O Bispo de Coimbra, D. Gonçalo Pais, entregou Soure aos presbíteros e irmãos D. Martinho e Mendo Arias, para estes reedificarem a “… ecclesiam qui ibi jacebat destructa” – cf. Livro Preto da Sé de Coimbra, doc. nº 241, de 1123.
[14] O Foral de Pombal, de 1174, refere a fundação do castelo na forma como a data se encontra expressa: “… Facta firmamenti karta a constructioni opidi anno decimo octavo mense Iunio Era Millesima Ducentesima XIIª …” (Portugaliae Monumenta Historica, Leges et Consuetudines, p. 399). A Era de 1218 corresponde ao A.D. de 1174. O Castelo de Pombal fora, portanto, fundado 18 anos antes, em 1156.
[15] Cf. Mário Jorge Barroca, “A Ordem do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Século XII”, Portvgalia, Nova Série, vol. XVII-XVIII, Porto, 1996-97, pp. 189-191.
[16] Cf. Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Dissertação de Doutoramento, vol. II, tomo 1, Porto, 1995, Insc. Nº 136, pp. 292-301.
[17] Entre os prisioneiros capturados pelo Wali de Santarém e levados para esta cidade contava-se o presbítero Martinho Arias, que veio a falecer no cativeiro entre 1145 e 1147 e que alcançou, assim, fama de santo, ficando conhecido por “S. Martinho de Soure”.
[18] Vd. José Mattoso, Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros. A Nobreza Medieval Portuguesa nos Séculos XI e XII, Lisboa, 1982, pp. 65-68; José Mattoso, Identificação de um País. Ensaio sobre as Origens de Portugal (1096-1325), vol. I, Lisboa, 1995 (5ª ed.), pp. 185-187.
[19] Cf. Fr. Joaquim de Santa Rosa Viterbo, Elucidário das Palavras, Termos e Frases que em Portugal antigamente se usaram …, vol. II, s.v. «Tempreiros», Porto, 1966, p. 587.
[20] Desconhecemos o documento original, mas as Inquirições de 1258 confirmam que a doação fora realizada por D. Fernão Mendes de Bragança – cf. Portugaliae Monumenta Historica, Inquisitiones, Lisboa, 1856 e ss., p. 1279.
[21] Cf. Documentos de D. Sancho I (1174-1211), Coimbra, 1979, doc. nº 100 (de 23 de Janeiro de 1197) e doc. nº 117 (de 5 de Julho de 1199). O primeiro documento diz respeito à troca dos castelos de Penas Róias e Mogadouro, o segundo diploma à troca das igrejas dessas localidades. Em recompensa a Ordem recebeu outros bens, igualmente importantes, mas localizados junto da fronteira meridional, frente às forças muçulmanas.
[22] Vd. Mário Jorge Barroca, “1ª Parte (1096-1325)”, in José Mattoso (Coord. de), História Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000 (no prelo).
[23] Cf. DMP, DR, doc. nº 221, de Abril de 1147.
[24] Malcolm Barber, The New Knighthood. A History of the Order of the Temple, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 70-75.
[25] DMP, DR, doc. nº 257, de [1156-57], e DMP, DR, doc. nº 262, de Julho de 1157. Sobre Gualdim Pais veja-se o que escrevemos em Mário Jorge Barroca, “A Ordem do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Século XII”, Portvgalia, Nova Série, vol. XVII-XVIII, Porto, 1996-97, pp.176-181.
[26] DMP, DR, doc. nº 271, de Fevereiro de 1159.
[27] A história de Tomar foi objecto de um recente e aprofundado estudo de Manuel Sílvio Conde, Tomar Medieval. O espaço e os homens, Cascais, 1996. Sobre o Castelo de Tomar veja-se o que escrevemos em Mário Jorge Barroca, “A Ordem do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Século XII”, Portvgalia, vol. XVII-XVIII, Porto, 1996-97, pp. 190-199.
[28] Cf. Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Dissertação de Doutoramento, vol. II, tomo 1, Porto, 1995, Insc. nº. 104, pp. 230-234.
[29] Cf. Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Dissertação de Doutoramento, vol. II, tomo 1, Porto, 1995, Insc. nº 104 (Tomar, 1 de Março de 1160), nº 136 (Pombal, 1171), nº 137 e 138 (Almourol, 1171), nº 142 (Penas Róias, 1172) e nº 148 (Longroiva, 1174).
[30] Cf. D. Luis de Mora-Figueroa, Glossário de Arquitectura Defensiva Medieval, Cadiz, 1994, pp. 34-35.
[31] Sobre a arquitectura militar dos Cruzados veja-se, entre outros, Hugh Kennedy, Crusader Castles, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; Paul Deschamps, Terre Sainte Romane, Yonne, Zodiaque, 1964, pp. 31-159; T. E. Lawrence, Crusader Castles, Oxford, Clarendon Press, 1990.
[32] Portugaliae Monumenta Historica, Leges et Consuetudines, Lisboa, 1856 e ss., pp. 388-389 e 399-401.
[33] Manuel Sílvio Conde, Tomar Medieval. O espaço e os homens, Cascais, 1996, p. 42, nota 49.
[34] A Porta de Santiago resulta de acrescento posterior, do Século XV, no momento em que se acrescentou a Barbacã de Porta ao sistema muralhado de Tomar.
[35] Sobre a Charola de Tomar veja-se, entre outros, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, O Românico, vol. III da História da Arte em Portugal, Lisboa, Alfa, 1986, pp. 118-120; José Augusto França, Tomar, Lisboa, 1994, pp. 53 e ss.; G. Graf, Portugal Roman, vol. I, Yonne, Zodiaque, 1986, pp. 205-214. Para além da Charola de Tomar, Portugal só possui mais um exemplo de uma igreja dotada de planta centrada – a Ermida de Stª. Catarina, em Monsaraz, uma obra também atribuída aos Templários. No entanto, é mais tardia que a Charola de Tomar. Vd. José Pires Gonçalves, “A Ermida Românica de Santa Catarina de Monsaraz”, Junta Distrital de Évora – Boletim Anual de Cultura, nº 8, Évora, 1967, pp. 125-156.
[36] O grande cerco almóada de 1190 encontra-se memorizado numa longa inscrição datada de 5 de Julho de 1190, que se conserva em Tomar, e onde é enaltecida a resistência oferecida por D. Gualdim Pais e pelos freires face a um poderoso exército muçulmano comandado pelo monarca almóada Abu Yaqub Yuçuf, cognominado al-Mansur (O Vitorioso) – cf. Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Dissertação de Doutoramento, vol. II, tomo 1, Porto, 1995, Insc. Nº 188, pp. 399-405.
[37] DMP, DR, doc. nº 288.
[38] DMP, DR, doc. nº 297.
[39] Vd. Mário Jorge Barroca, “A Ordem do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Século XII”, Portvgalia, Nova Série, vol. XVII-XVIII, Porto, 1996-97, pp. 199-202.
[40] Documentos de D. Sancho I (1174-1211), Coimbra, 1979, doc. nº 73, de 13 de Junho de 1194. O nome dado a este castelo – Belver – não pode deixar de ser relacionado com o Castelo de Belvoir, um dos mais famosos castelos detido pelos Hospitalários no Próximo Oriente. Também os Templários optaram por alguns topónimos emblemáticos para a sua Ordem: a duas povoações portuguesas deram o nome de “Castelo Branco”, tal como o Chastel Blanc que a Ordem do Templo detinha no Próximo Oriente: a primeira, uma pequena povoação junto a Penas Róias, no Norte de Portugal; a segunda, a actual cidade de Castelo Branco, nome atribuído pelos Templários à antiga “Vila Franca da Cardosa”.
[41] Cf. Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa